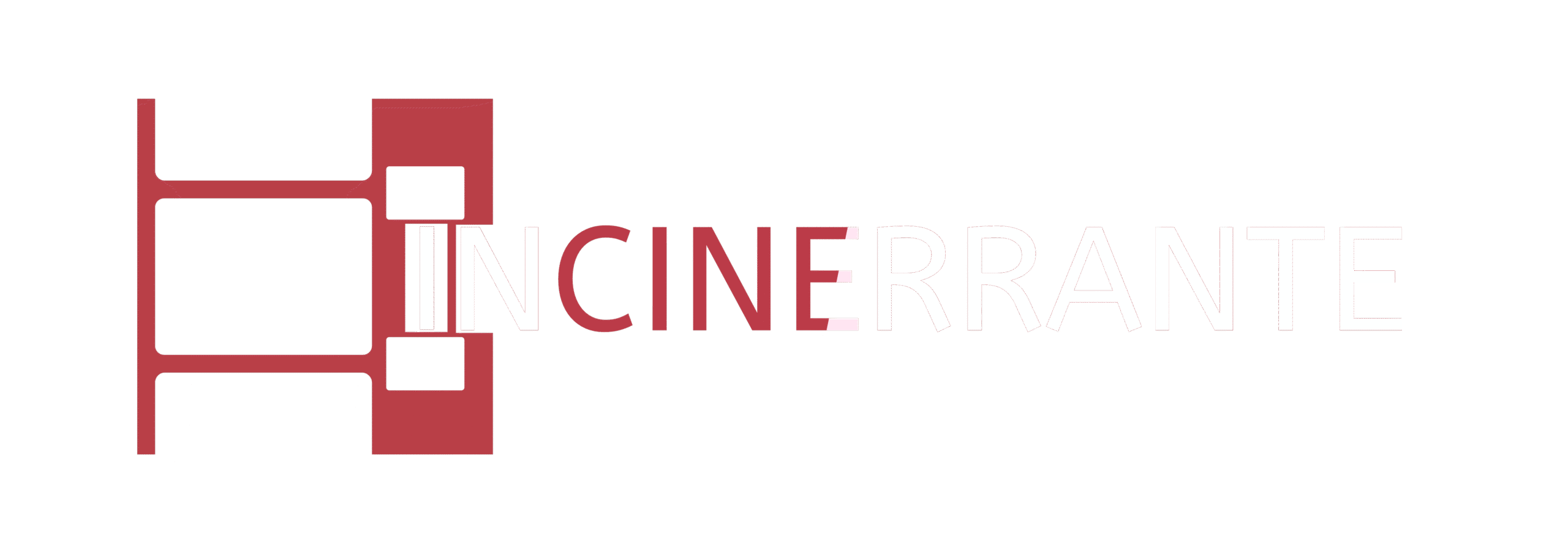Texto escrito para o livro No Rastro dos Encontros Perdidos: A Mostra Novíssimo Cinema Brasileiro, organizado por Nayla Guerra e Gustavo Maan e publicado na Coleção CINUSP em setembro de 2024.
RIBEIRO, Marcelo R. S. Casulo, secreção, segredo. In: GUERRA, Nayla; MAAN, Gustavo (org.). No Rastro dos Encontros Perdidos: a Mostra Novíssimo Cinema Brasileiro. São Paulo: Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária – USP, 2024, p. 43–51. Versão disponível em: https://incinerrante.com/textos/casulo-secrecao-segredo.
1. Não há história do cinema sem preservação, e qualquer história da preservação é uma história de restos em meio à desaparição, mais ou menos acelerada, dos rastros e dos filmes, por ação ou omissão antrópicas ou por alguma forma de deriva entrópica. Para escrever a história do cinema, é preciso partir do que resta, do que escapou ou pode escapar da desaparição e do esquecimento — como restos mais ou menos informes (ainda que eventualmente o que resta guarde a aparência de uma variedade de formas consagradas: os filmes, seus modos e gêneros, suas matérias-primas variavelmente identificáveis) ou como restos metamorfoseados (os filmes não realizados, desaparecidos ou destruídos de que restam relatos, notícias, reverberações etc.). Para escrever a história do cinema, em suma, é preciso que se saiba conhecer e reconhecer as imagens visuais e sonoras preservadas, deterioradas, restauradas, temporariamente perdidas e reencontradas dos filmes, em sua dispersão em cinematecas, arquivos, coleções pessoais etc. E é preciso também conhecer e reconhecer as imagens sensoriais disseminadas por eles ao se projetarem nas memórias, nos sonhos e nos desejos que os atravessam, os nossos e de tantos outros.
Esta evidência intuitiva é, talvez, fundamental, para que seja possível algum saber: não há história sem a permanência de rastros do passado. No que concerne à história do cinema, isso diz respeito, em primeiro lugar, à frágil permanência dos filmes, que deve ser possível ver e rever, ouvir e reouvir, em suas múltiplas modalidades de existência midiática e sobrevivência material. À evidência dos rastros, deve-se acrescentar, contudo, a vidência de quem os encontra, de quem se depara com seu vário enigma: não há história sem que tentemos reconhecer, nos rastros do passado, em suas especificidades e características, algum vislumbre da máquina do mundo entreaberta, como escreve Carlos Drummond de Andrade, “para quem de a romper já se esquivava / e só de o ter pensado se carpia.” Mais que isso, é preciso que estejamos atentos ao passado que, de relance, se abre para nós, não apenas reconhecendo seus rastros, mas reconhecendo-nos como parte do que está em jogo neles. Na história do cinema, isso corresponde a reconhecer que os filmes são parte dos rastros do passado que nos interessa interrogar, mas também continuam a produzir rastros na variável sobrevida que encontram em nossos olhos e ouvidos, em nossos corpos e mentes, em nossas lembranças e delírios.
2. No poema “A máquina do mundo”, de Carlos Drummond de Andrade1, o poeta elabora uma espécie de recordação do vislumbre fugaz de uma “total explicação da vida”, um “nexo primeiro e singular”, que se apresenta e se perde. Na escrita da história, à maneira da máquina do mundo, “[a] verdadeira imagem do passado escapa rápido”, como escreve Walter Benjamin em um dos fragmentos que dedicou ao conceito de história (segundo a tradução da edição crítica de Márcio Seligmann-Silva e Adalberto Müller2). Para que seja possível alguma escrita da história, é preciso reconhecer e interrogar a imagem do passado no relance em que ela se apresenta. No entanto, continua Benjamin: “Só podemos apreender o passado como imagem que, no instante de sua cognoscibilidade, relampeja e some para sempre”3. Assim, a imagem do passado “ameaça desaparecer com cada presente que não se reconheceu visado por ela”, como “a máquina do mundo, repelida” pela relutância do poeta, pode ir-se “miudamente recompondo” e se perder em meio ao retorno da “treva mais estrita” — e como um filme pode ser menosprezado ou desconsiderado, na história do cinema, por contingências de mercado, de público, de crítica, por censura direta ou difusa, entre outros fatores.
Assim como a máquina do mundo, ao se abrir “em calma pura”, dirige-se ao poeta sem que “voz alguma / ou sopro ou eco ou simples percussão / atestasse que alguém, sobre a montanha, // a outro alguém, noturno e miserável, em colóquio se estava dirigindo”, o que Benjamin denomina “boa nova” — isto é, a imagem do passado em seu relampejar, antes de eclipsar e desaparecer — “vem de uma boca que, talvez no instante mesmo em que se abre, fala ao vazio”4. É a boca da máquina do mundo que, trazendo a boa nova do passado redimido e seu “reino augusto, / afinal submetido à vista humana”, se dirige ao vazio em que poeta e historiador se encontram, relutantes, em luta contra o esquecimento, em luto pelo esquecimento e por tudo que este ameaça engolir. Se, diante da máquina do mundo que se abre brevemente, resta ao poeta registrar o assombro persistente e a promessa perdida, enquanto segue sua caminhada, “de mãos pensas”, e reconhece o retorno da “treva espessa / que entre os raios do sol inda se filtra”, por sua vez, diante da imagem do passado que rapidamente escapa e se esvai, o historiador deve apreender e recordar seus rastros, buscando reconhecer e resguardar o que estes têm de assombro e promessa. Na história do cinema, assim, é sempre preciso apreender e recordar os rastros da circulação variável e fugaz de tantos filmes, tentando reconhecer e resguardar o assombro e a promessa de suas derivas contingentes.
3. Os filmes podem existir de muitos modos na história do cinema: são vários os processos que os condicionam (protocolos profissionais, rotinas de produção, experimentações artísticas, experiências amadoras…); são diversas as suas modalidades midiáticas (películas de vários formatos, gravações eletrônicas, digitalizações em condições variadas de qualidade e compressão de imagem…); são abundantes as suas configurações formais (produtos acabados segundo convenções de gênero mais ou menos definidas, produtos inacabados conforme graus variados de incompletude, uma ou mais montagens realizadas…). Mas os filmes também podem não (chegar a) existir. É por isso que Jean-Luc Godard se refere, em História(s) do cinema, a “todas as histórias dos filmes / que não foram / jamais feitos”5.
Se, para fazer justiça aos muitos modos de existência dos filmes, ao escrever a história do cinema, é preciso atentar à evidência dos rastros (na medida de sua preservação) e à vidência de quem os encontra (na incomensurabilidade de sua memória e imaginação), o que está em jogo quando pensamos nos filmes “que não foram / jamais feitos” e, mais amplamente, quando tentamos reconhecer os múltiplos modos de inexistência dos filmes? Afinal, filmes podem inexistir porque nunca foram feitos, mas também porque foram destruídos ou se perderam, porque a ação ou omissão antrópica os destinaram ao apagamento, por meio da censura prévia ou posterior à sua produção, em função da indiferença ou do descaso, ou ainda porque uma deriva entrópica os consumiu. Nesse sentido, assim como não há história do cinema sem preservação, sem restos que sobrevivam à desaparição, não há história do cinema sem esquecimento, sem perda irremediável de uma série interminável de máquinas do mundo que chegaram a se abrir em algum momento e sem o vazio inapagável de uma variedade de imagens do passado que não chegaram a relampejar – em suma, não há história do cinema sem uma multiplicidade de modos de inexistência dos filmes, que será preciso reconhecer, interrogar e resguardar em seu assombro – e em sua promessa.
4. “A história à deriva.” No primeiro verso do poema “O parecer de Synéas”, que faz parte do livro qvasi: segundo caderno (2017), de Edimilson de Almeida Pereira6, estamos diante do enigma da máquina do mundo. “Rodeá-la é um fracasso / se a mão / não divisa // suas dobras.”7 As dobras da história em sua deriva: eis o que deve saber divisar — isto é, reconhecer e resguardar, distinguir e delimitar — a mão do historiador-poeta ou do poeta-historiador. Com efeito, como evidenciam também a figura e a obra de Godard, a oposição entre o historiador e o poeta (que remonta à fundação da História como campo do saber) deve ser desfeita para que seja possível escrever cinematograficamente a história do cinema, o que quer dizer, também, escrever poeticamente a história do cinema, por meio da montagem e da remontagem de seus fragmentos e de suas lacunas, com base na pulsação de suas imagens visuais e sonoras, assim como na pulsão anarquívica que as atravessa, multiplicando os cortes, as elipses, os escuros. Não apenas, portanto, fazer cinema para escrever a história do cinema como uma história de filmes feitos e filmes jamais feitos, mas escrever a história do cinema em textos escritos, em formas audiovisuais e em fragmentos multimidiáticos, para dar conta dos modos de inexistência dos filmes em sua variedade.
Pensar a história do cinema a partir do reconhecimento dos modos de inexistência dos filmes implica desdobrar a escrita da história em uma relação dupla com o arquivo: buscando reconhecer os rastros que abriga e os apagamentos produzidos pela violência anarquívica que o constitui; em outras palavras: tentando pensar os signos que reúne e interrogar as cinzas que secreta. Aqui, o conceito de arquivo deve ser entendido não apenas como a constelação dos filmes existentes e os corpos variáveis de matéria documental que os orbitam, mas como a nebulosa dos filmes inexistentes e os buracos de matéria documental que tornam possível entrever seus rastros, assim como os buracos na matéria documental que exigem a fabulação de sua potência espectral. Em sua teoria da história, o poema de Edimilson de Almeida Pereira continua: “A história fia / seu casulo. / Alguns diriam // – nossa memória.”8 Se a história é como um inseto que, fiando seu casulo, secreta a memória que gesta e gera o presente, é porque o casulo da história resguarda o corpo do passado em seu interior e o destina à metamorfose no futuro. Ao secretar seu casulo-memória, a história resguarda um segredo — não há casulo-memória sem esquecimento: a perda do corpo do passado na metamorfose que o endereça ao futuro, a desaparição da imagem do passado no relampejo que a dá a ver e a reconhecer, a “treva espessa / que entre os raios do sol inda se filtra” e permanece, contudo, assombrada pela abertura vagamente luminosa da máquina do mundo.
5. Se a treva espessa e estrita dos filmes inexistentes é um lugar de assombro, já que a inexistência de um filme é muito frequentemente uma função de alguma forma de violência anarquívica, a espessura da treva pode resguardar também um lugar de promessa, uma vez que a violência anarquívica que funda todo arquivo histórico decorre de uma condição de abertura anarquívica para a reinvenção. Por um lado, o assombro diante dos filmes inexistentes decorre de sua relação com as modalidades de violência anarquívica que constituem o arquivo da história do cinema: em suma, a violência das diversas formas de censura e das desigualdades de acesso a capital, tecnologias e circuitos que determinam que alguns filmes possam existir em plenas condições de visibilidade, e outros, não. Por outro lado, a promessa dos filmes inexistentes está relacionada às brechas e fraturas que sua inexistência abre na escrita da história do cinema. Não é a promessa de uma utopia redentora, nem de uma revelação da máquina do mundo, nem de colheita do futuro como fruto acabado de uma história unívoca. Em vez disso, o que se insinua na abertura anarquívica dos filmes inexistentes no interior do arquivo da história do cinema é o resgate cuidadoso dos dissensos da história, como lemos no final do poema de Edimilson de Almeida Pereira: “Da história, as discórdias. / Ao rodeá-la, / o que a mão resgata // ainda não é o fruto.”9
Trata-se de resgatar, por exemplo, ainda que em sonho e delírio, todas as histórias dos filmes que Nanook não pôde realizar a partir de seu encontro com Robert Flaherty, como se pode imaginar a partir do relato contido no prefácio de Flaherty para a restauração de Nanook of the North (1922). Depois de recordar o conturbado processo de realização do filme, com a queima dos negativos iniciais e a realização de uma nova viagem destinada à realização de filmagens junto aos Inuit, Flaherty escreve: “Finalmente, em 1920, pensei que tinha filmado cenas suficientes para fazer o filme e me preparei para ir para casa. O pobre e velho Nanook ficava na minha cabana, falando sobre os filmes que ainda poderíamos fazer se eu ficasse mais um ano.”10 Diante dos filmes que Nanook imaginou, mas que permaneceram inexistentes, “o que a mão resgata // ainda não é o fruto.” A imagem do passado escapa rápida; a máquina do mundo se insinua e se esquiva: não é possível fazer frutificar filme algum nesse vazio que, no entanto, é preciso incorporar à história do cinema como uma de suas partes constitutivas.
6. Para reconhecer a imagem do passado que, em sua passagem fugaz, remonta aos filmes desejados por Nanook, é preciso, sem dúvida, rever Nanook of the North e rastrear os indícios do que se insinua no relato de Flaherty: a perspectiva de Nanook sobre o cinema. No casulo-memória do filme restaurado (resultado de importante trabalho de preservação), no qual se inseriu o prefácio de Flaherty como um suplemento, o que se inscreveu foi uma brecha ou uma fratura. O prefácio duplica a violência anarquívica que continha e reprimia a perspectiva de Nanook, por meio de sua conversão, no processo de realização do filme, em matéria-prima para a extração de mais-valia simbólica que conduz à expressividade controlada por Flaherty, isto é, ao investimento de sua assinatura como assinatura autoral. Ao duplicar a violência que funda seu filme, no entanto, o prefácio de Flaherty torna essa violência colonial ainda mais evidente. Em uma leitura que busque devolver essa violência duplicada ao arquivo colonial de que ela faz parte, dobrando-a sobre si mesma e perturbando a ordem do arquivo, torna-se possível reivindicar a possibilidade de desmontar, remontar e até mesmo refilmar Nanook of the North em busca da perspectiva de Nanook.
O fogo não é apenas o que destruiu as primeiras filmagens e a primeira versão do filme de Flaherty com Nanook, que se perdeu irremediavelmente e da qual dispomos apenas de restos metamorfoseados, sobretudo os relatos do próprio Flaherty e documentos relacionados. É também fogo o próprio filme que ele realizou depois, a partir de filmagens realizadas na nova viagem, mas no fogo de Nanook of the North o que se consumiu e se perdeu são os filmes imaginados por Nanook. Para tentar imaginar ou fabular o que poderiam ter sido esses filmes, dispomos apenas do próprio filme de Flaherty como resto metamorfoseado, mas esse resto decorre precisamente da violência que impede a emergência dos filmes imaginados por Nanook. No casulo-memória que decorre da história de Nanook of the North, assim como em toda a (escrita da) história do cinema, será preciso reconhecer a secreção das cinzas: o fogo dos filmes que chegaram a existir secreta as cinzas dos filmes “que não foram / jamais feitos”. Na secreção das cinzas, o que está em jogo é um segredo impossível de revelar — jamais saberemos o que seriam, efetivamente, os filmes imaginados por Nanook. Diante desse segredo, que é um exemplo do segredo fundamental de toda história (todas as possibilidades do que não aconteceu) e da nódoa de não saber inscrita em toda escrita da história, resta tentar divisar suas dobras, buscando rodear sua voz inaudível, à escuta do que pode nos falar a sua boca informe.
ANDRADE, Carlos Drummond de. A máquina do mundo. Em: Claro enigma. São Paulo: Companhia das Letras, 2012, p. 105-108. ↩
BENJAMIN, Walter. Sobre o conceito de História – Edição crítica. Edição e tradução: Adalberto Müller e Márcio Seligmann-Silva. 1. ed. São Paulo: Alameda, 2020, p. 34 (Manuscrito de Hannah Arendt); p. 69 (Cópia pessoal de Benjamin); p. 114 (Transcrição Póstuma). Na “Versão Francesa”, tal como traduzida por Müller e Seligmann-Silva para o português, lê-se: “A imagem autêntica do passado só aparece como um relâmpago.” (p. 95). ↩
Ibid, p. 34 (Manuscrito de Hannah Arendt); p. 69 (Cópia pessoal de Benjamin); p. 114 (Transcrição Póstuma). Na “Versão Francesa”, tal como traduzida por Müller e Seligmann-Silva para o português, lê-se: “Imagem que apenas surge para clipsar-se para sempre no instante seguinte” (p. 95). ↩
Ibid, p. 35-36 (Manuscrito de Hannah Arendt); p. 69-70 (Cópia pessoal de Benjamin); p. 115 (Transcrição Póstuma). Salvo engano, não consta frase correspondente na “Versão Francesa”. ↩
GODARD, Jean-Luc. Histoire(s) du cinéma. Paris: Gallimard, 2006, p. 64. Variações dessa formulação aparecem em diversos momentos da série videográfica Histoire(s) du cinéma (1988-1998). ↩
PEREIRA, Edimilson de Almeida. O parecer de Synéas. Em: qvasi: segundo caderno. 1. ed. São Paulo: Editora 34, 2017, p. 111–112. ↩
Ibid, p. 111. ↩
Ibid, p. 111. ↩
Ibid, p. 112. ↩
No original: “At last, in 1920, I thought I had shot enough scenes to make the film, and prepared to go home. Poor old Nanook hung around my cabin, talking over films we still could make if I would only stay on for another year.” ↩