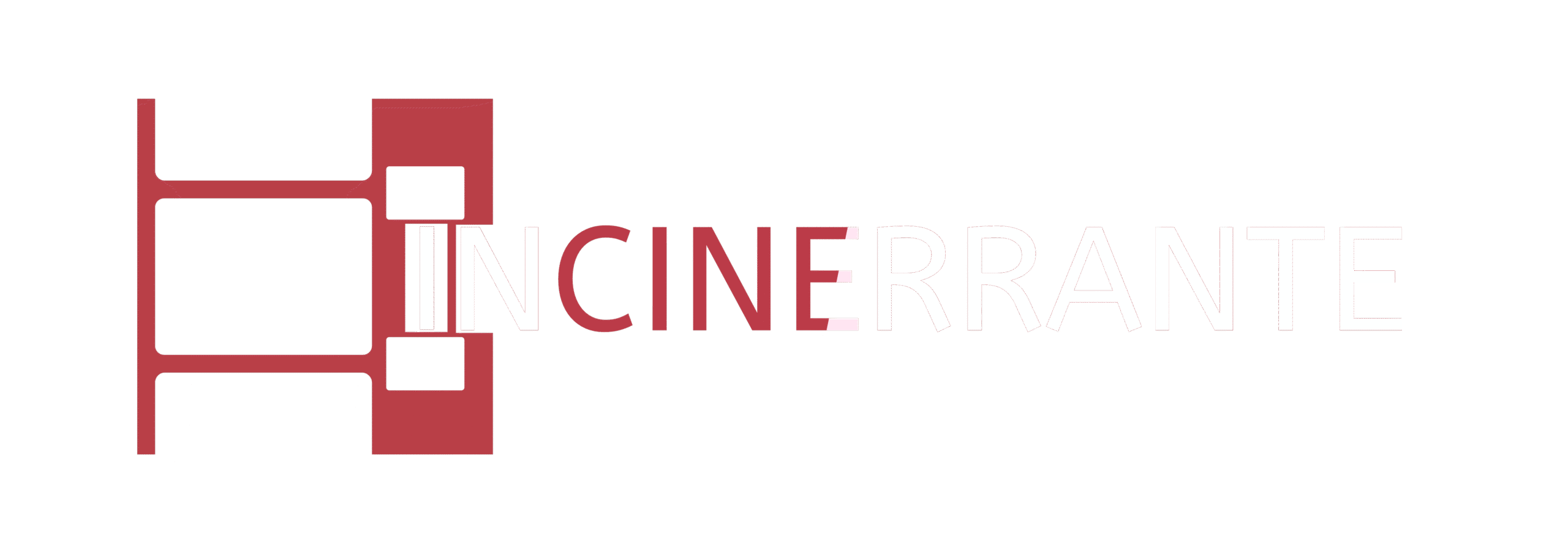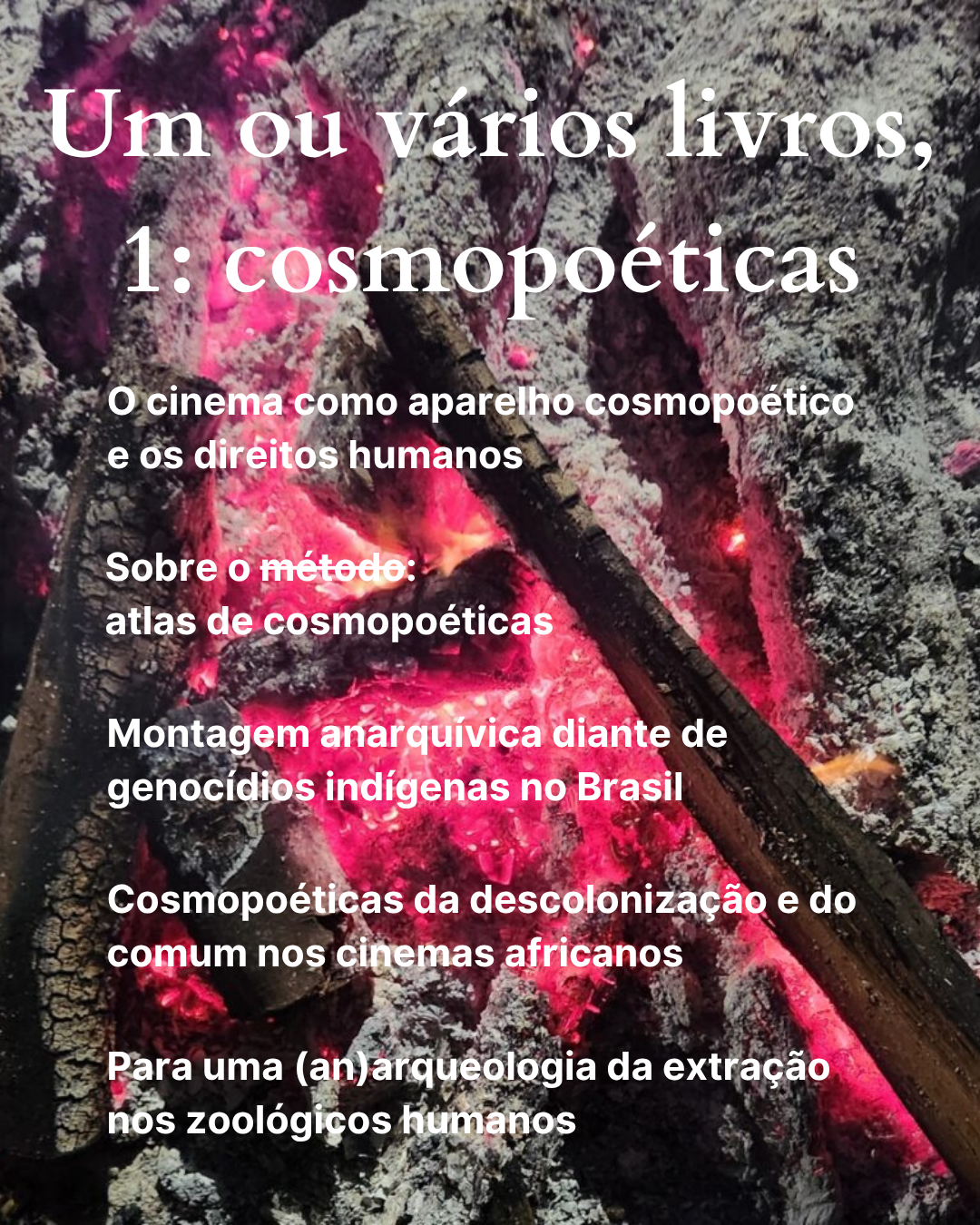Algo como um ou vários livros incompletos se insinua quando reúno o que escrevi em torno do conceito de cosmopoéticas. Eis alguns fragmentos, que se poderia rearranjar, talvez, conforme os interesses de cada leitor ou leitora.
O cinema como aparelho cosmopoético e os direitos humanos
No livro Do inimaginável (2019), estão algumas das minhas primeiras formulações mais elaboradas em torno do conceito de cosmopoéticas. Especialmente na “Introdução: humanidade e mundanidade”, que pode ser lida aqui, e mais especificamente no item “O cinema como aparelho cosmopoético”, abordo o “trabalho duplo de imaginação”, relacionado às noções de humanidade e de mundo, em que “o projeto cosmopolítico dos direitos humanos encontra seu fundamento cosmopoético” (2019, p. 45).
Se os direitos humanos aspiram a um arquivo universal da humanidade – que é um arquivo disseminado, descentrado e em deriva, em uma condição de abertura anarquívica – o cinema é um dos aparelhos cosmopoéticos a que corresponde a tarefa impossível, mas necessária, de arquivamento do mal e do comum, assim como da humanidade e da mundanidade. (2019, p. 45)
Sobre o método: atlas de cosmopoéticas
Em “Em busca do mundo: literatura e cinema como dispositivos cosmotécnicos e aparelhos cosmopoéticos”, insinuam-se os fundamentos contingentes de uma deriva de pesquisa que chamei, pelo menos desde esse meu livro Do inimaginável, de “atlas de cosmopoéticas”. Nesse artigo, com base em uma distinção entre a operação da literatura e do cinema como dispositivos cosmotécnicos (que unificam ordem moral e cósmica de forma consensual) e aparelhos cosmopoéticos (que perturbam ou dissociam ordem moral e cósmica de maneira dissensual), caracterizei o atlas de cosmopoéticas nos seguintes termos:
- Em vez de enfatizar a captura do comum, é preciso partir da contingência.
- Em vez de se concentrar nas formas sedimentadas, é preciso partir do informe.
- Em vez de supor a traduzibilidade, é preciso partir do intraduzível e da opacidade.
- Em vez de buscar ordens classificatórias, é preciso partir do anarquívico.
Em vez de privilegiar o que está disponível como acervo e evidência sensível, o que está arquivado como um conjunto de formas sedimentadas, segundo recortes convencionais do comum (entre os quais se pode observar um privilégio do enquadramento nacional), o que pode ser transferido por meio da tradução como intercâmbio, e classificado, por meio da categorização e da periodização como procedimentos metodológicos, a deriva do atlas de cosmopoéticas participa do que se pode denominar paradigma anarquívico. Diferenciando-o do que Carlo Ginzburg (1991, p. 154) denomina paradigma indiciário, entendido como “uma constelação de disciplinas centrada na decifração de signos de vários tipos, dos sintomas às escritas”, gostaria de sugerir que, no paradigma anarquívico, está em jogo uma nebulosa de saberes indisciplinares, que se constituem no e com o risco de interrogar rastros que restam como cinzas – no que Édouard Glissant (2005, p. 103) denomina “visão profética do passado” ou Saidiya Hartman (2020) chama de “fabulação crítica”. (2023, p. 43)
Montagem anarquívica diante de genocídios indígenas no Brasil
Em “Cosmopoéticas do espectador selvagem”, entretecendo comentários analíticos sobre Serras da Desordem (Andrea Tonacci, 2006), Corumbiara (Vincent Carelli, 2009) e Taego Ãwa (Marcela Borela e Henrique Borela, 2015), identifico a figura do espectador selvagem como uma “ficção do contato” (2020, p. 127), que assombra – “com seu olhar perturbador, capaz de olhar com outros olhos, com sua escuta inconcebível, capaz de decifrar as línguas, reconhecer as vozes e os cantos, lastrear os ruídos” (2020, p. 127) – as perspectivas desses cineastas brancos sobre os genocídios indigenas que abordam em seus filmes.
O que se insinua entre a aparição dos espectadores indígenas na cena espectatorial, de partilha do olhar e da escuta diante do arquivo da história, e a emergência do espectador selvagem no discurso cinematográfico da montagem anarquívica são as cosmopoéticas do espectador selvagem: as formas de invenção (poiesis) do mundo como mundo comum (cosmos), associadas à experiência histórica do contato intercultural, da intraduzibilidade e da opacidade. (2020, p. 112-113)
Em “Cosmopolíticas e cosmopoéticas do contato”, ensaio bibliográfico que escrevi sobre o livro Da cena do contato ao inacabamento da história: Os últimos isolados (1967-1999), Corumbiara (1986-2009) e Os Arara (1980-), de Clarisse Alvarenga (2017), escrevi: “Se o conceito de cosmopoética se refere à produção de mundos radicalmente diferentes (cuja relação entre si articula intraduzibilidade e opacidade), é preciso reconhecer que toda cosmopoética se encontra inscrita em encadeamentos de cosmopolíticas – isto é, acoplamentos relativos a formas de configuração e partilha do mundo comum (que pode emergir por meio do diálogo intercultural e da tradução).” (2018, p. 210).
É como ponte cosmopoética e cosmopolítica que o cinema emerge do contato, sempre que suas imagens e sons se abrem para a experiência incomensurável do encontro equívoco entre culturas, e é com Andrea Tonacci [ao lado de Adrian Cowell e Vincent Carelli] que será possível completar o quadro incipiente dessa ponte em construção, que é também uma ruína à qual será preciso retornar e cuja forma frágil será preciso sustentar. (2018, p. 218)
Cosmopoéticas da descolonização e do comum nos cinemas africanos
Duas ou três coisas que sei dos cinemas africanos passam também pelo conceito de cosmopoéticas, e a retomada dessa conversa é um dos eixos centrais do meu atual projeto de pesquisa, “Atlas de cosmopoéticas, 1950-1980: descolonização e enquadramentos coletivos na emergência dos cinemas africanos”.
Em 2016, publiquei um artigo que apresenta os termos mais gerais dessa discussão: “Cosmopoéticas da descolonização e do comum: inversão do olhar, retorno às origens e formas de relação com a terra nos cinemas africanos”. Nesse texto, já falo do atlas de cosmopoéticas (ainda que equivocadamente o entendesse, naquele momento, como um “programa” de pesquisa, uma ideia que passei a contestar ao reivindicar a noção de “deriva”) e de um deslocamento do atlas cartográfico pelo atlas de imagens, como viria a elaborar no artigo de 2023 mencionado mais acima. Além disso, proponho uma diferenciação entre “as cosmopoéticas da descolonização que fundam os cinemas africanos e as cosmopoéticas do comum a que aspiram em sua disseminação histórica, por meio da identificação analítica de três temas – a inversão do olhar, o retorno inventivo às origens e a relação com a terra – e de algumas de suas formas estéticas” (2016, p. 5).
À descolonização como tarefa interminável, que se inicia com a inversão do olhar colonial, sucede o problema da comunidade descolonizada, que aparece, em Soleil Ô e em outros filmes, sob a forma paradoxal do retorno inventivo às origens. Nesse sentido, se a inversão do olhar é a primeira figura da cosmopoética da descolonização que funda os cinemas africanos, em sua busca pela autonomia do direito de olhar contra a visualidade colonial, o retorno inventivo às origens pode ser reconhecido como a primeira figura das cosmopoéticas do comum que constituem o horizonte projetivo em relação ao qual toda cinematografia africana precisa definir seus termos, suas iconografias e suas narrativas. (2016, p. 12-13)
Em 2023, no início do projeto atual, retomei e atualizei alguns desses temas no artigo “Retorno, captura, abertura: cosmopoéticas do comum no cinema de Paulin Soumanou Vieyra”. Escrito, a partir de um ensaio anterior que revisei e ampliei, antes de iniciar minhas pesquisas nos arquivos de Vieyra que estão atualmente na Indiana University Bloomington (cujos resultados ainda não foram publicados), o artigo aborda alguns dos filmes de curta metragem do cineasta, que também foi um importante produtor, crítico, teórico e historiador dos cinemas africanos. Em sua obra, identifico uma tensão constitutiva entre a operação do cinema como dispositivo cosmotécnico baseado na forma nacional e sua operação como aparelho cosmopoético aberto para outras partilhas do comum.
Enquanto as cosmopoéticas da descolonização estão relacionadas à perturbação da ordem colonial, as cosmopoéticas do comum se desdobram como multiplicação de enquadramentos de mundos possíveis como formas variáveis de existência. Historicamente, como toda transformação tem sua abertura limitada pela produção de novas formas, e toda sedimentação formal tem seu fechamento perturbado pela emergência de forças que não têm forma fixa, cosmopoéticas da descolonização e cosmopoéticas do comum se complicam e se renovam interminavelmente. A obra cinematográfica de Vieyra pode ser lida, assim, como um campo de forças atravessado pela tensão entre o nacional como dispositivo cosmotécnico e uma série de formas de cosmopoéticas da descolonização (sobretudo em seus filmes iniciais) e do comum (na maior parte de sua filmografia). (2023, p. 47)
Enquanto a sergunda parte do meu afastamento para pós-doutorado (de agosto de 2024 a julho de 2025) foi dedicada aos arquivos de Vieyra (e de Ousmane Sembène) que estão na IU Bloomington (com uma bolsa do CNPq, preciso destacar), os primeiros seis meses foram dedicados a uma pesquisa (na Universidade Federal Fluminense, mas sem bolsa) em torno do filme 25 (1975-1977), de José Celso Martinez Corrêa e Celso Luccas. Nesse contexto, o conceito de cosmopoéticas é também crucial, como mostra um artigo ainda muito incipiente apresentado no 33º Encontro Anual da COMPÓS, em 2024: “Encruzilhadas cosmopoéticas: 25 (1974-1976) e o paradigma anarquívico”. Os argumentos aí iniciados foram desenvolvidos e complementados na minha participação na mesa “Arquivos e Descolonização” do I Seminário Internacional Arquivo e Contra-Arquivo: política e migração das imagens, assim como na minha contribuição para o catálogo do 28º Festival do Filme Documentário e Etnográfico Fórum de Antropologia e Cinema – forumdoc.bh.2024, intitulada “25 (1975-1977): encruzilhadas amefricanas”.
As encruzilhadas cosmopoéticas de 25 inscrevem no filme registros sismográficos das vibrações móveis, das frequências inaudíveis e dos deslocamentos profundos da história da amefricanidade. (2024, p. 203)
Para uma (an)arqueologia da extração nos zoológicos humanos
O ensaio “Cosmopoéticas da desobediência informe: leitura contra-colonial do regime da extração no catálogo Lumière” participa do paradigma anarquívico do atlas de cosmopoéticas. Ali, busco reconhecer a extração como fundamento da operação do cinematógrafo Lumière como dispositivo cosmotécnico, sem desconsiderar a fresta cosmopoética aberta insistentemente pelo gesto de desobediência informe visível em Danse du Sabre, I (1897). Esta é uma das vistas cinematográficas do catálogo Lumière que registra um zoológico humano em Lyon, no final do século XIX.
No centro do círculo, com o enquadramento centrípeto, a operação de extração da mais-valia espetacular da diferença procura converter os corpos dos dois homens em fetiches exóticos, como atrações principais da vista 441. Compreender a Danse du Sabre, I como exemplo do cinema de atrações é reiterar inadvertidamente a violência extrativista da operação do cinematógrafo como dispositivo cosmotécnico, participando do apagamento da violência colonial que torna possível representar a diferença como um conjunto exótico de atrações. O arquivo e sua ordem se constituem por meio desse apagamento, mas o aparelho registra também um transbordamento: na vista 441, uma pulsão anarquívica emerge das relações centrífugas entre os corpos e o enquadramento, perturbando sua operação como dispositivo cosmotécnico e abrigando em suas imagens uma frágil potência cosmopoética, que se condensa nos recorrentes movimentos de virada de um dos homens em direção ao aparelho. (2021, p. 14)
Em “Aschanti-Figuren, 1896-1903: para uma (an)arqueologia da extração”, retomo o tema do ensaio de 2021 e amplio a teia transtextual aberta em que situo as aparições da alteridade “Aschanti” em zoológicos humanos na Europa, na virada do século XIX para o século XX. Ao articular uma arqueologia e uma anarqueologia da extração que produz as personas negras de delírios brancos baseados no racismo, o texto recorre ao conceito de cosmopoéticas como parte de uma tentativa de reconhecer as “frequências inaudíveis dos sons e silêncios por trás das máscaras brancas” (2025, p. 67).
À análise do regime da extração, de sua violência que captura encontros entre mundos e os reduz à cena recorrente de espetáculos exóticos baseados em delírios brancos, busquei acrescentar a escuta das imagens e de suas frequências inaudíveis, em busca das vibrações que, apesar dessa operação colonial-extrativista do dispositivo e de seu fogo contínuo, foram registradas de alguma maneira, em alguma fresta, em alguma cinza que é preciso reacender, insistindo nas aberturas cosmopoéticas que se pode entrever em seu brilho em brasa. (2025, p. 102-103)
Tudo isso é parte de mais de uma pesquisa em andamento ou em compasso de espera, por assim dizer, em meio a itinerários que frequentemente multiplicam os caminhos abertos e os horizontes do possível. Aqui, tentei reunir os fragmentos em um percurso comentado, retomando pontos que me parecem significativos (meu livro e o artigo que escrevi sobre o atlas de cosmopoéticas) e agrupando ao menos alguns textos publicados em momentos diferentes da minha trajetória (sobre temas tão diversos quanto as histórias do contato e dos genocídios indígenas no Brasil, os cinemas africanos em sua multiplicidade, e os zoológicos humanos na história do cinema e nas teias transtextuais abertas que a atravessam), porque me dei conta de que todas essas aproximações variáveis ao conceito de cosmopoéticas talvez componham um livro, talvez mais de um, em sua evidente incompletude, que me resta continuar a completar de maneira insuficiente e, assim, aprofundar ainda mais.